Em complementação à vaquinha da última postagem, pode-se trazer dois bois para lhe fazerem companhia nesse dia. Se a vaca de Rosa corria em busca do seu destino, Carlos Drummond de Andrade mostra em dois poemas estes dois bois, que ficam parados, mas não inertes. Os bovinos se tornam símbolo máximo da ruminação, um ato cada vez mais necessário nos humanos (não do bolo alimentar, por certo, mas de pensamentos, que devem ser continuamente remastigados).
Drummond, sendo quem é, vê os bois e cria uma projeção e comparação com os homens, ora na perspectiva de alguém de fora que vê o boi como um outro (“O boi” – publicado em José, 1942), ora como o próprio boi em uma análise do ser humano (“Um boi vê os homens” – publicado em Claro Enigma, 1951). De qualquer forma, muito podem ensinar esses ruminantes, com os olhos calmos de quem desvendou um segredo, mas não se preocupa em fazer nada com isso.
Sem mais, vamos a eles:
O BOI
(Carlos Drummond de Andrade)
Ó solidão do boi no campo,
ó solidão do homem na rua!
Entre carros, trens, telefones,
Entre gritos, o ermo profundo.
Ó solidão do boi no campo,
Ó milhões sofrendo sem praga!
Se há noite ou sol, é indiferente,
A escuridão rompe com o dia.
Ó solidão do boi no campo,
Homens torcendo-se calados!
A cidade é inexplicável
E as casas não têm sentido algum.
Ó solidão do boi no campo!
O navio-fantasma passa
Em silêncio na rua cheia.
Se uma tempestade de amor caísse!
As mãos unidas, a vida salva…
Mas o tempo é firme. O boi é só.
No campo imenso a torre de petróleo.
UM BOI VÊ OS HOMENS
(Carlos Drummond de Andrade)
Tão delicados (mais que um arbusto) e correm
e correm de um para outro lado, sempre esquecidos
de alguma coisa. Certamente, falta-lhes
não sei que atributo essencial, posto se apresentem nobres
e graves, por vezes. Ah, espantosamente graves,
até sinistros. Coitados, dir-se-ia não escutam
nem o canto do ar nem os segredos do feno,
como também parecem não enxergar o que é visível
e comum a cada um de nós, no espaço. E ficam tristes
e no rasto da tristeza chegam à crueldade.
Toda a expressão deles mora nos olhos — e perde-se
a um simples baixar de cílios, a uma sombra.
Nada nos pelos, nos extremos de inconcebível fragilidade,
e como neles há pouca montanha,
e que secura e que reentrâncias e que
impossibilidade de se organizarem em formas calmas,
permanentes e necessárias. Têm, talvez,
certa graça melancólica (um minuto) e com isto se fazem
perdoar a agitação incômoda e o translúcido
vazio interior que os torna tão pobres e carecidos
de emitir sons absurdos e agônicos: desejo, amor, ciúme
(que sabemos nós?), sons que se despedaçam e tombam no campo
como pedras aflitas e queimam a erva e a água,
e difícil, depois disto, é ruminarmos nossa verdade.
***
Esses dois poemas tendem a tratar da mesma análise comparativa: se o boi está na sua tranquilidade, os homens estão na sua velocidade caótica e, por muitas vezes, incompreensível. Por sorte, há o poeta para traduzir a linguagem bovina em português.
No primeiro, “O boi”, tem-se a cena que deflagra o assunto do poema: um boi sozinho no campo (com direito à torre de petróleo completando a paisagem). Eis que Drummond, logo à primeira estrofe, associa a solidão do boi no campo com a solidão do homem na rua, mesmo esse último estando em meio a um turbilhão sem fim de coisas barulhentas. Cria-se um paradoxo na imagem, pois todo esse caos de sons e movimentos se dá em um “ermo profundo”, ou seja, um deserto. A imagem amplia-se e atinge os milhões, que sofrem, mesmo “sem praga”. É uma escuridão constante que o poeta percebe nos homens, não importando o momento ou o horário.
Na terceira estrofe, com o boi ainda solitário no campo ameno, vê-se os homens “torcendo-se calados”, não encontrando apoio ou segurança em seus lugares. Nem na cidade (na poesia drummondiana, um dos símbolos máximos dessa impessoalidade, como se vê em “A flor e a náusea”), nem na própria casa.
Coroando a contraposição boi-homens, surge um navio-fantasma em silêncio, no caso humano, um silêncio feito de sofrimentos e não conexão com o mundo. O poeta, no meio da última estrofe, lança a fagulha de esperança que a tudo resolveria: “Se uma tempestade de amor caísse!”. Interessante notar que não é uma chuva, mas uma tempestade, muito mais forte e intensa, para ser capaz de unir as mãos e salvar a vida.
O poeta, por fim, olha o céu, sem qualquer menção de nuvem (“mas o tempo é firme”), vê o boi, ainda só, e a torre de petróleo coroando aquele campo imenso e quase deserto. O poema, então, faz-se como essa epifania súbita, essa revelação que a mera presença do boi no campo cria e que é pontuada, a cada estrofe, pela evocação desse ser solitário.
Em contraponto, quando se muda o foco e chega a vez do “boi ver os homens”, a estrutura do poema se modifica. Não há mais estrofes, e as próprias frases vão se prolongando nos versos seguintes. São oito frases que se constroem num crescimento do não entendimento do que é um ser humano, mergulhando na essência da humanidade.
Primeiramente, o boi (a voz poética que se pronuncia) olha para os homens, que correm sem ter rumo certo. Chama a atenção o parâmetro de comparação, lógico para a perspectiva bovina, dos homens serem delicados e frágeis como arbustos. Na sequência, tentando compreendê-los, supõe que tanto correm porque buscam um atributo essencial que ainda lhes falta. E por isso se mostram tão “nobres”, “graves” e até “sinistros”.
O boi, então, demonstra pena pelos homens, pois eles afastam-se do mero ato de sentir as coisas em sua face natural. Não escutam “o canto do ar” ou os “segredos do feno”, e por isso se perdem e não enxergam “o que é visível e comum a cada um de nós”. Com isso, o poeta, com o boi como porta-voz, expõe a sabedoria que é saber e usufruir de seu lugar no espaço. Por não conseguir chegar a isso, nota que os homens são tristes e chegam (como sempre) à crueldade.
Chega-se aos olhos, que nos bovinos parecem ampliar-se e conter o mundo todo, mas nos homens, mesmo lá estando “toda a expressão deles”, qualquer sombra faz com que isso se perca. Como um grande filósofo, o boi desvenda a razão da fragilidade dos homens: neles há “pouca montanha” e não conseguem se organizar “em formas calmas, permanentes e necessárias”.
Com certo ar condescendente, o boi admite que os homens têm alguma graça, e vê que a forma de se esquivarem desse vazio interior é emitir “sons absurdos e agônicos”, isto é, as palavras. Aos mugidos sinceros e afirmativos que todos os bovinos têm, o poeta contrapõe a fala humana, tão frágil para representar sentimentos tão complexos (desejo, amor, ciúme), e que se vão tombando e despedaçando como “pedras aflitas”. E que, na correnteza de palavras todas e de ações múltiplas e contradições várias, é difícil “ruminarmos nossa verdade”.
Como sempre, em se tratando de Drummond, muitas outras coisas e sentidos se vão passando à margem. Mas é precisa enfrentar, mergulhar e chegar ao outro lado, com a força dos bois e vacas, e a certeza de que é no ruminar e no redeglutir, que as ideias se tornam palavras, e as palavras se tornam ações.
E pronto!
por Saulo Gomes Thimóteo



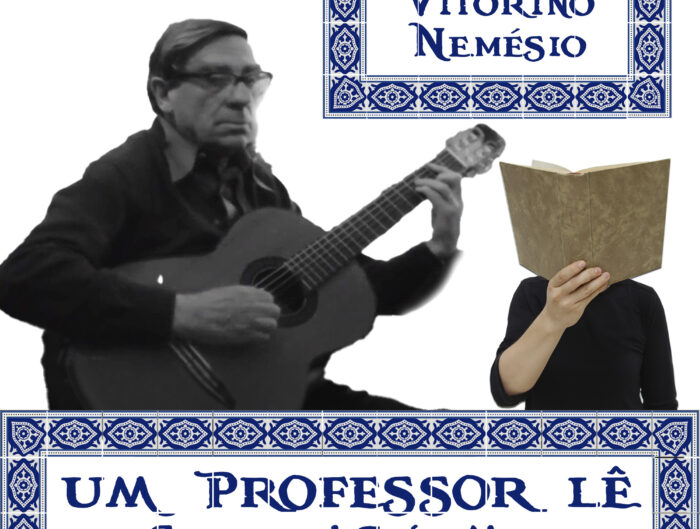
7 Comments
Muito boa a análise, por favor façam mais do livro claro enigma, pois ajuda bastante aentender os poemas
Olá, Rodolfo. Pode deixar. Faremos mais alguma análise na sequência. Tem alguma sugestão?
Eu tenho! Faz do poema: Memórias e Oficina Irritada, desse mesmo livro.
QUE ANÁLISE, QUE ANÁLISE
Arrasou professor!!
Adorei a análise!! Parabéns, inspirador demais! 🙂
Ótima análise!
Obrigado