Há vinte anos, em outubro de 1998, José Saramago tornava-se o primeiro prêmio Nobel de literatura em língua portuguesa. Em suas obras, ele revela o que são as “vidas desperdiçadas”, ou seja, todas aquelas pessoas que a História esquece, omite, soterra. Há uma crítica contínua a toda forma de opressão, de imposição de uma voz autoritária, de um afastamento do outro. O anseio de Saramago era o de que os seres humanos, todos, se respeitassem – algo que, por ser óbvio, precisa ser continuamente repetido.
Em suas crônicas, publicadas ao longo da década de 1970, ele transitava por inúmeros assuntos e formas narrativas. A que segue, intitulada “História do rei que fazia desertos”, publicada em A bagagem do viajante (1973), utiliza-se da estrutura clássica dos contos de fadas, mas trocando a figura do herói, pela de um anti-herói, autoritário, sanguinário, raivoso…
Sem mais, vamos a ele:
HISTÓRIA DO REI QUE FAZIA DESERTOS
(José Saramago)
Era uma vez um rei que nascera com um defeito no coração e que vivia num grande palácio (como sempre costumam ser os palácios dos reis), cercado de desertos por todos os lados, menos por um. Seguindo o gosto da mazela[1] com que viera ao mundo, mandara arrasar os campos em redor do palácio, de tal maneira que, assomando[2] pela manhã à janela do seu quarto, podia ver desolação e ruínas até ao fim e ao fundo do horizonte.
E quem isto ler e não for contar,
Em cinza morta se há-de tornar
Encostado ao palácio, da banda[3] das traseiras, havia um pequeno espaço murado que parecia uma ilha e que ali calhara[4] ficar por estar a salvo dos olhares do rei, que muito mais se comprazia[5] nas vistas da fachada nobre. Um dia, porém, o rei acordou com sede de outros desertos e lembrou-se do quintal que um poeta da corte, adulador como a língua de um cão de regaço[6], já antes comparara a um espinho que picasse a rosa que, em seu dizer, era o palácio do monarca. Deu pois o soberano a volta à real morada, levando atrás de si os cortesãos e os executores das suas justiças, e foi olhar torvo o muro branco do quintal e os ramos das árvores que lá dentro haviam crescido. Pasmou o rei da sua própria indolência[7] que consentira o escândalo e deu ordens aos criados. Saltaram estes o muro, com grande alarido de vozes e de serrotes, e cortaram as copas que por cima sobressaíam.
E quem isto ler e não for contar,
Em cinza morta se há-de tornar
Mirou o rei o resultado, a ver se seria bastante, a consultar o seu coração defeituoso, e decidiu que os muros deviam ser deitados abaixo. Logo avançaram umas pesadas máquinas que levavam penduradas grandes massas de ferro, as quais, balouçando, deram com os muros em terra, entre estrondos e nuvens de poeira. Foi então que apareceram à vista os troncos degolados das árvores, as pequenas culturas[8] e, num extremo, uma casa toda coberta de campainhas azuis.
E quem isto ler e não for contar,
Em cinza morta se há-de tornar
Pelas nesgas[9] que as árvores deixavam, já via o rei o fim do horizonte, mas temeu que os ramos de repente crescessem e viessem arrancar-lhe os olhos, e então deu outras ordens, e uma multidão de homens se lançou ao quintal e todas as árvores foram arrancadas pela raiz e ali mesmo queimadas. O fogo alastrou às culturas, e diz-se que por essa razão a corte decidiu organizar um baile, que o rei abriu sozinho, sem par, porque, como já foi dito, este rei tinha um defeito no coração.
E quem isto ler e não for contar,
Em cinza morta se há-de tornar
Acabou a dança quando se apagavam as últimas labaredas e o vento arrastava o fumo para o fundo do horizonte. O rei, cansado, foi sentar-se no trono de levar à rua e deu beija-mão, enquanto olhava de sobrecenho[10] a casa e as campainhas azuis. Gritou uma nova ordem e daí a poucos minutos já não havia casa nem campainhas azuis, nem outra coisa, a não ser, enfim, o deserto.
E quem isto ler e não for contar,
Em cinza morta se há-de tornar
Para o malicioso coração do rei, o mundo chegara finalmente à perfeição. E o soberano preparava-se já para voltar, feliz, ao palácio, quando dos escombros da casa saiu um vulto que começou a caminhar sobre as cinzas das árvores. Era talvez o dono da casa, o cultivador do chão, o levantador das espigas. E quando este homem andava, cortava a vista do rei e trazia o horizonte para ao pé do palácio, como se fosse sufocar.
E quem isto ler e não for contar,
Em cinza morta se há-de tornar
Então o rei puxou da espada e à frente dos cortesãos avançou para o homem. Caíram em cima dele, agarraram-lhe braços e pernas, e no meio da confusão só se via a espada do rei a subir e a descer, até que o homem desapareceu e no lugar dele ficou uma grande poça de sangue. Foi este o último deserto feito pelo rei: durante a noite o sangue alastrou e cercou o palácio como um anel, e na noite seguinte o anel tornou-se mais largo, e sempre mais, até ao fim e ao fundo do horizonte. Sobre este mar há quem diga que virão navegando um dia barcos carregados de homens e sementes, mas também quem afirme que quando a terra acabar de beber o sangue nenhum deserto será jamais possível refazer sobre ela.
E quem isto ler e não for contar,
Em cinza morta se há-de tornar
—
[1] moléstia, doença; [2] aparecendo; [3] lado; [4] aconteceu por acaso; [5] agradava; [6] colo; [7] descuido; [8] vegetais cultivados; [9] pequenas frestas; [10] rosto severo e fechado.
***
Pensando-se na estrutura desse texto, ele inicia pelo “Era uma vez”, adentrando no universo maravilhoso dos contos de fadas, além de contar com a figura do rei e de seu palácio. O elemento que se destaca é a espécie de “semimaldição” que é repetida sete vezes, ao longo de toda a história, como se alertasse o seu leitor para que isso não se encerre com a leitura, mas se prolongue a outros ouvidos, a outros olhos, a outras pessoas.
E a história, em si, trata desse personagem tirano que, por ter o seu “defeito no coração”, deseja que todo o lado exterior seja reflexo do que vai em seu interior. Por isso se esforça em criar “desolação e ruínas até ao fim e ao fundo do horizonte”, mandando a multidão arrancar e queimar a tudo que encontrassem.
Eis que surge o elemento de conflito no conto, que é a presença de um muro, ainda não visto pelo rei. Para além dele, o restante de verde e natureza é logo arrasado também, abrindo espaço para um novo elemento: a casa solitária e extrema. É dela que surge o “vulto”, que parece sufocar o rei, por ser um elemento estranho em sua vista do deserto completo.
Esse novo homem, ao ser morto pelo rei de modo tão violento, funciona para a narrativa como o mártir deflagrador de uma nova esperança. O seu sangue, com toda a simbologia da vida e da luta, torna-se o meio pelo qual um novo tempo surgirá: ou trazendo outros que iniciarão a reconstrução; ou impulsionando a própria terra a se tornar geradora de novas vidas.
Por certo que não há a necessidade de se destruir a tudo para que a esperança possa regressar. O melhor é todos, sem defeitos no coração, cultivarem as suas coisas e, especialmente, sem incentivar ou agir por meio da violência e do ódio, pois é esse tipo de cegueira a mais propícia a criar desertos, seja dos reis ou dos súditos.
E pronto!


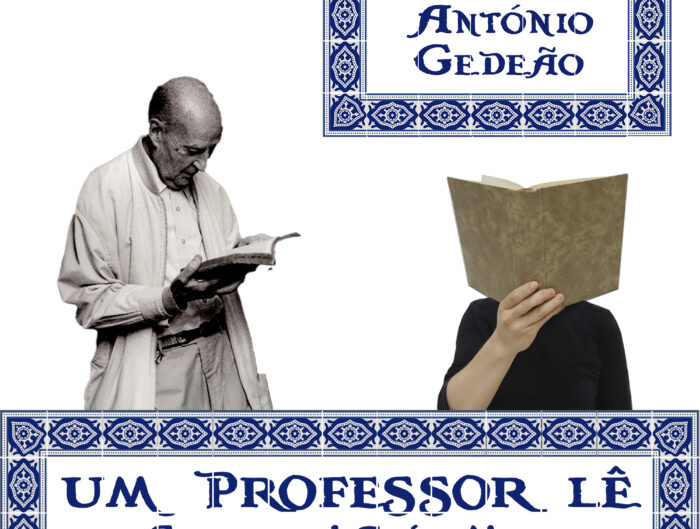

Leave A Reply